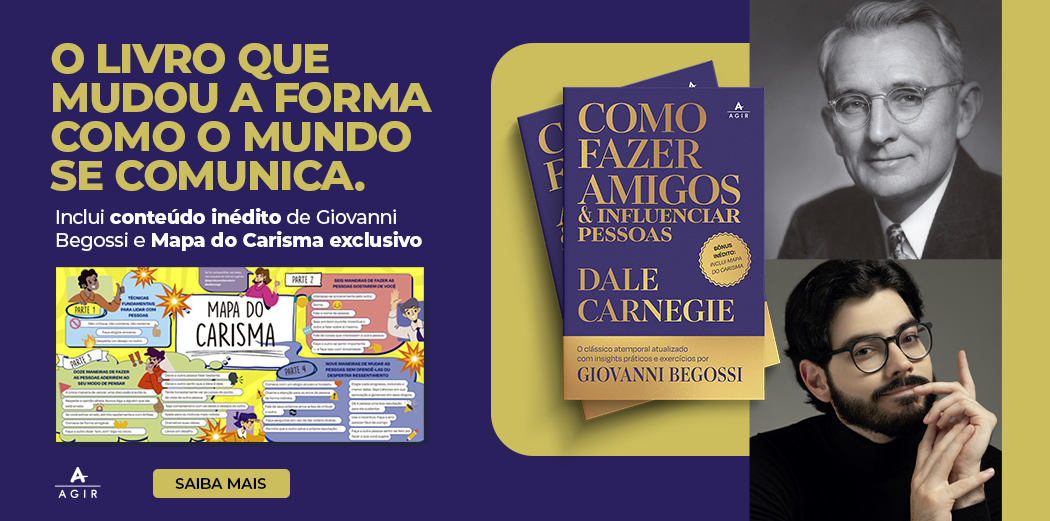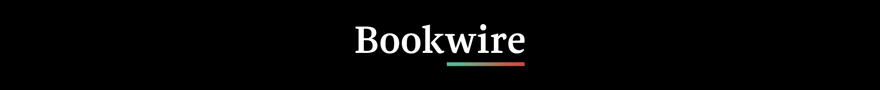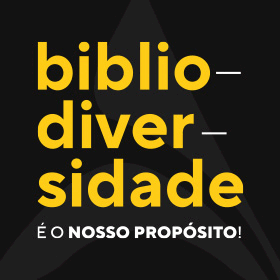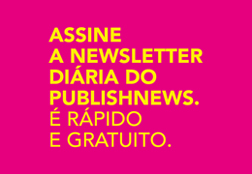Nesta conversa com a coluna Futuros Compostos, Mariana compartilha os atravessamentos desse percurso – e como ele a levou a repensar o futurismo não como ferramenta de previsão, mas como prática cotidiana, acessível e coletiva. Da educação às narrativas, da ética à cultura pop asiática, passando pela inteligência artificial e pela reconfiguração dos afetos, Mariana defende que o futuro já está entre nós. A pergunta é como escolhemos vivê-lo.
Como o estudo sobre o futuro entrou na sua vida?
Os estudos de futuros entraram bem no início da minha carreira como jornalista e pesquisadora de inovação, tendências e de tecnologias associadas à temática educacional. A participação em trabalhos para o TEDx – o primeiro a ser realizado no Brasil, TEDx São Paulo, em 2009 – consolidou essa preferência. Eu comecei, então, a me apaixonar pelos estudos de cenários de futuro; passei a investigar o impacto da tecnologia na vida das pessoas, na sociedade, no planeta. Daí para frente, foi uma loucura! Fui estudar na Singularity University, morei na NASA (Califórnia). Aliás, estudar e, depois voltar para trabalhar com eles, foi uma das coisas mais legais que já fiz! Saí dos Estados Unidos, na sequência vive uma experiência parecida em Israel , na Hebrew University, onde cursei uma formação em inovação e novas tecnologias. Durante essas etapas de formação, muito ricas e desafiadoras, iniciei no paralelo um mergulho nas pesquisas de futurismo, nas tendências e nas metodologias. Nunca mais parei!
Por que é importante estudar futuros?
Por muitos motivos. O fato é que todo mundo precisa entender a tecnologia que está chegando e os possíveis cenários para se planejar, para pensar a vida pessoal e profissional. Até para a saúde mental, é interessante. Vivemos essa ansiedade do descompasso de tempos e tecnologias, do corpo físico, da mente e do mundo externo. Estudar futurismo, nesse sentido, é um pouco terapêutico. Você começa a enxergar cenários, possibilidades de futuro e entender que a gente está vivendo em ondas, em momentos – e que estamos juntos nessa. E, inclusive, que é possível se defender ou fazer escolhas de futuro.
Na sua visão, é possível aprender sobre o futuro com os livros?
Sim. Os livros têm o dom de desmistificar a ideia do futurismo, trazendo a popularização do tema. Todas as formas de aprender são bem-vindas! Inclusive, nos livros antigos, olhar o passado e os padrões de sociedade é uma forma de projetar e entender futuros.
Dentro dessa lógica de futures literacy, quais habilidades ou mentalidades deveriam estar no centro de uma educação voltada para futuros possíveis?
Defendo o futurismo como uma prática acessível e sigo acreditando nisso com força. Vivemos um ritmo tão acelerado de inovação tecnológica que mal temos tempo de nos adaptar. E aí vem a ansiedade: qual é a habilidade da vez? Que profissão preciso ter? Qual o cenário certo para estar pronta? Talvez a habilidade mais importante hoje seja justamente essa: imaginar futuros. Desenvolver a capacidade de projetar cenários, não só para o mercado, mas para a vida, para a escola, para as relações. Em vez de correr atrás do que está sempre prestes a ficar obsoleto, talvez seja mais sábio dar um passo atrás, observar os movimentos e pensar em longo prazo. Isso não é apenas mais saudável – é também mais estratégico. O futurismo precisa deixar de ser uma conversa de elite ou algo técnico demais para “gente comum”. Olha o caso da inteligência artificial: ela existe há mais de 50 anos, mas só agora entrou de vez na conversa pública. E, ainda assim, muita gente ainda tem medo, ainda vê o tema como distante. A internet também foi assim. Primeiro vem o estranhamento, depois o impacto direto.
Por isso, pensar futuros precisa ser uma prática de todos: mais próxima, menos assustadora, mais democrática. Esse não é um debate restrito a laboratórios ou a centros de pesquisa tecnológica. É uma conversa urgente para acontecer com mais gente, em mais lugares. E, para mim, o futurismo é, ou deveria ser, uma ferramenta coletiva de imaginação e ação.
Como você enxerga a intersecção entre as discussões sobre o futuro, a educação e o trabalho?
Nas minhas aulas, faço essa reflexão sobre a educação para o futuro – ou melhor, sobre como a educação sempre imitou os formatos de trabalho vigentes. Se voltarmos à era rural, a sala de aula espelhava o campo: pessoas de diferentes idades reunidas, cada uma com seu papel, aprendendo em conjunto. Era comum ter uma mentora e um grupo diverso, como numa pequena comunidade. Com a Revolução Industrial, veio a escola-fábrica. Passamos a aprender em fileiras, sob o som de sinetas que marcavam entrada, saída e hora de comer – uma lógica industrial de tempo e produtividade que ainda persiste. Já na virada digital, ensaiamos um novo formato: a sala de aula conectada, a educação mediada por telas. Mas, assim como o mercado de trabalho ainda tateia formas de se reorganizar entre o presencial e o digital, a escola também segue em busca de seu novo desenho.
Acredito que ainda estamos em transição. Educação, assim como o trabalho , é parte do estilo de vida – e nosso estilo de vida está em metamorfose. Talvez não exista mais um único modelo que sirva para todos. A ideia de padronização em larga escala está sendo desafiada. Podemos estar caminhando para formatos mais customizáveis, mais responsivos à singularidade de cada trajetória. Em meio a essas transformações, algumas habilidades seguem essenciais: escuta ativa, pensamento crítico, capacidade de adaptação. Nada disso é novo, mas tudo isso se torna ainda mais urgente quando o futuro se mostra incerto – seja pela velocidade das tecnologias, seja pelos abalos sociais e climáticos que redesenham o mundo.
Ao pensar o futuro, tendemos a focar em rupturas. Mas, o que continua? Quais valores ou práticas resistem (restariam) ao tempo?
Quando a gente fala em ruptura versus continuidade, gosto de lembrar que existe o tempo da tecnologia, mas também existe o tempo da cultura, da biologia, das crenças. Cada aspecto da vida tem o próprio ritmo. A tecnologia pode acelerar muita coisa, mas ela só se integra de verdade quando encontra um terreno fértil nesses outros tempos – o tempo da adaptação biológica, da vida em família, dos valores sobre o trabalho, sobre o que é viver bem. Tecnologia, por si só, não se sustenta. Ela precisa ser adotada, ressignificada. E quem faz isso somos nós – como indivíduos, como sociedade, como mercado. A gente decide o lugar que ela ocupa, os limites e os sentidos que ela vai ter no nosso cotidiano.
Quantas empresas já não lançaram tecnologias achando que seriam revolucionárias e se surpreenderam com o desinteresse ou com o uso inesperado que as pessoas fizeram? Não é uma conta exata. Mesmo em tempos de saltos tecnológicos impressionantes, o que permanece (e nos provoca) são questões contínuas, como a ética. E ética é uma conversa antiga, profundamente humana. Estamos falando de um debate milenar que atravessa gerações. E agora, com a inteligência artificial, estamos sendo empurrados para discutir isso com mais urgência. Talvez devêssemos ter começado antes, mas chegou o momento. A ética, inclusive, é o fio que costura essa transição. Ela não desaparece com a ruptura – ao contrário, ela se intensifica. E é ela que nos ajuda a decidir o que conduz, o que se regula, o que se aceita e o que se recusa. Porque, no fim das contas, não é a tecnologia que define o futuro, mas o modo como escolhemos vivê-la.
Nesse cenário de volatilidade, como você enxerga o futuro dos livros?
Essa é uma pergunta que me atravessa nos diferentes papéis que desempenho: como leitora, como escritora e como pesquisadora. Acho que esse futuro passa por transformações, inclusive, como já aconteceu com o rádio, a televisão, o cinema. O impacto da tecnologia sobre os meios de comunicação é inevitável. Mas uma coisa é o meio, outra é a essência. E a essência permanece: somos feitos de histórias. Desde sempre, é por meio das narrativas que nos comunicamos, nos reconhecemos, nos curamos. E eu não vejo isso desaparecendo. Pelo contrário, vejo a tecnologia, muitas vezes, tentando justamente nos reconectar com o que é mais humano: o afeto, o sonho, a memória, o desejo de sentido.
O papel dos livros talvez mude de formato, mude a maneira como os consumimos, mas não desaparece. O que é bom, o que é verdadeiro, o que toca permanece. Seguiremos querendo boas histórias. Continuaremos buscando compreender o passado e imaginar o futuro. Ler, nesse sentido, é também um jeito de existir. Eu, por exemplo, vou continuar relendo A Montanha Mágica , de Thomas Mann, seja no físico ou no digital. (Até conseguir absorver aquilo tudo!). Tenho um olhar mais livre sobre essa transição. Acredito que bons conteúdos se sustentam na força da história que carregam. E não acho que seja tempo de medo, mas de atenção: para fazer boas escolhas, para entender os cenários (para focar o tempo e atenção, inclusive) e seguir cultivando o que importa.
Sobre suas recentes pesquisas, na viagem que fez ao Japão e à Coreia do Sul, o que chamou a sua atenção?
Os olhares que lancei para o Japão e para a Coreia foram bastante pautados para as questões culturais e comportamentais – especialmente para esse “contraponto” da cultura oriental versus ocidental. A relação e aproximação entre esses mundos está mais estreita e evidente. O Ocidente tem consumido mais coisas do Oriente, principalmente as gerações mais novas e, sobretudo, o público feminino jovem e maduro. O que chamamos de dorama vai além da Coreia: são dramas asiáticos, também produzidos na China e no Japão. Essas narrativas trazem um olhar mais conservador, que aborda um amor romântico, um roteiro mais acolhedor que a gente tem visto na literatura, inclusive, no universo de Healing Fiction – a ficção de cura –, um gênero que pesquisei recentemente.
Especificamente, saindo um pouco do livro, achei interessante ver, na Coreia, o consumo de muito item físico por parte dessa geração nova – a que curte K-pop, BTS –, conteúdos que estão muito ligados à internet, ao YouTube e ao marketing de influência. Na prática, tem um consumo grande, por exemplo, de fotografias impressas, álbuns, pelúcias, itens de coleção. Você compra o CD/álbum do seu ídolo para ter em casa o produto físico. Enxergo, também, um apego afetivo dessa nova geração asiática a uma estética retrô que está presente nos doramas, no anseio pelo aconchego físico, do estar próximo e demonstrar romantismo. Temos muito o que pesquisar ainda sobre esse assunto, mas acredito que esse comportamento irá reverberar muito mais nos livros.
Sobre a Mariana escritora, o que o leitor vai encontrar no seu livro O futuro nasceu antes – Uma futurista e o design da vida em laboratório?
A linha condutora do livro é o processo que vivi nos últimos dois anos, tentando engravidar por produção independente. Fui entendendo, passo a passo, o que significa tirar óvulo, comprar sêmen, formar embrião, congelar embrião, transferir, checar qualidade, fazer análise genética – minha e do doador. Um percurso altamente tecnológico, mas atravessado por dúvidas, medos, vulnerabilidades. É essa travessia que dá corpo ao livro. Ou seja, decidi não olhar para o futuro com a lente profissional, do mercado ou dos negócios. Escolhi um olhar pessoal – o de uma mulher, uma futura mãe, tentando imaginar o que vem adiante em várias temáticas como trabalho, saúde, educação, meio ambiente. O futurismo aqui parte de um viés íntimo. Não se trata de previsões, mas de perguntas nascidas no corpo, na biografia, no desejo. O livro, por isso, é para todos os tipos de leitores, porque fala de futuros de um lugar sensível, cotidiano e, ao mesmo tempo, profundamente questionador. Claro, ele traz muita pesquisa, referências sólidas. E aí entra a colaboração com Betânia Lins – que esteve comigo no processo de pesquisas e contribuiu com uma camada mais técnica, importante para quem quiser mergulhar mais fundo ou expandir os debates que o livro propõe.
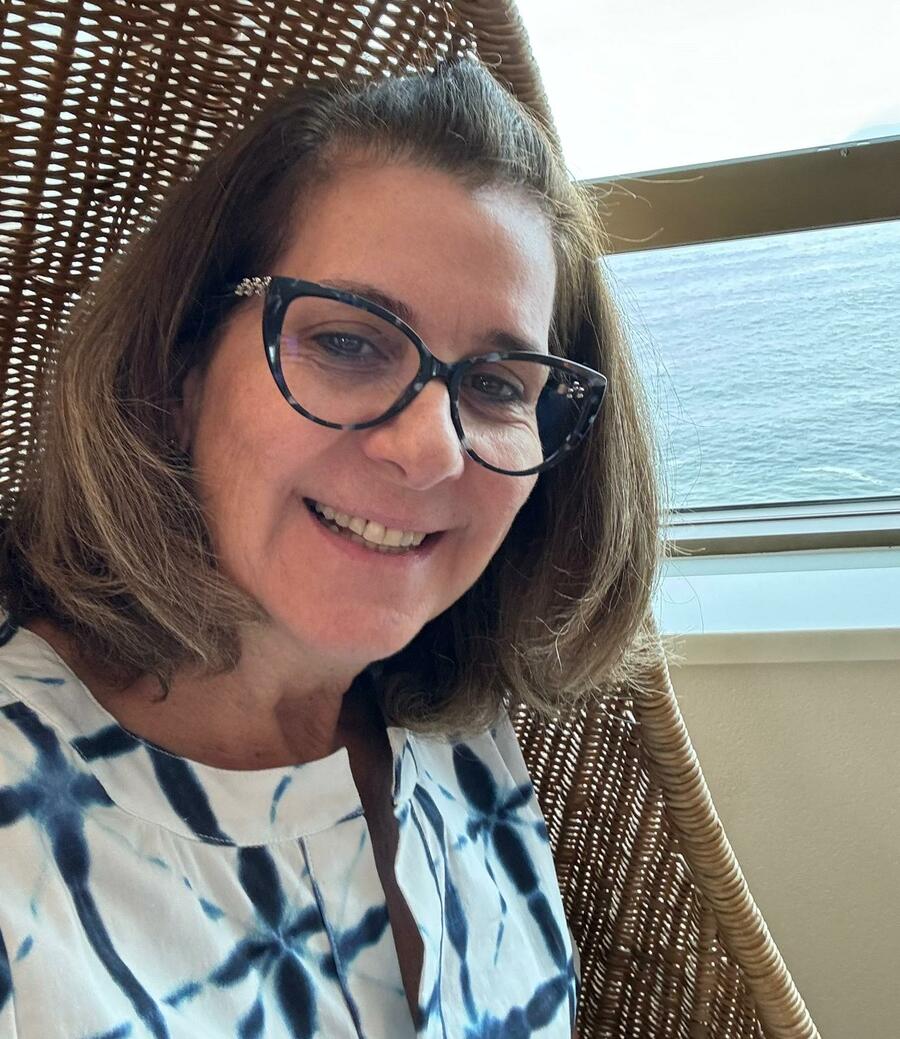 *Lu Magalhães é fundadora do Grupo Primavera (Pri, de primavera & Great People Books), sócia do PublishNews e do #coisadelivreiro. Graduada em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), possui mestrado em Administração (MBA) pela Universidade de São Paulo (USP) e especialização em Desenvolvimento Organizacional pela Wharton School (Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos). A executiva atua no mercado editorial nacional e internacional há mais de 20 anos.
*Lu Magalhães é fundadora do Grupo Primavera (Pri, de primavera & Great People Books), sócia do PublishNews e do #coisadelivreiro. Graduada em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), possui mestrado em Administração (MBA) pela Universidade de São Paulo (USP) e especialização em Desenvolvimento Organizacional pela Wharton School (Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos). A executiva atua no mercado editorial nacional e internacional há mais de 20 anos.
**Os textos trazidos nessa coluna não refletem, necessariamente, a opinião do PublishNews.
Mais de 13 mil pessoas recebem todos os dias a newsletter do PublishNews em suas caixas postais. Desta forma, elas estão sempre atualizadas com as últimas notícias do mercado editorial. Disparamos o informativo sempre antes do meio-dia e, graças ao nosso trabalho de edição e curadoria, você não precisa mais do que 10 minutos para ficar por dentro das novidades. E o melhor: É gratuito! Não perca tempo, clique aqui e assine agora mesmo a newsletter do PublishNews.
Precisando de um capista, de um diagramador ou de uma gráfica? Ou de um conversor de e-books? Seja o que for, você poderá encontrar no nosso Guia de Fornecedores. E para anunciar sua empresa, entre em contato.
O PublishNews nasceu como uma newsletter. E esta continua sendo nossa principal ferramenta de comunicação. Quer receber diariamente todas as notícias do mundo do livro resumidas em um parágrafo?
Este conteúdo não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído sem autorização.