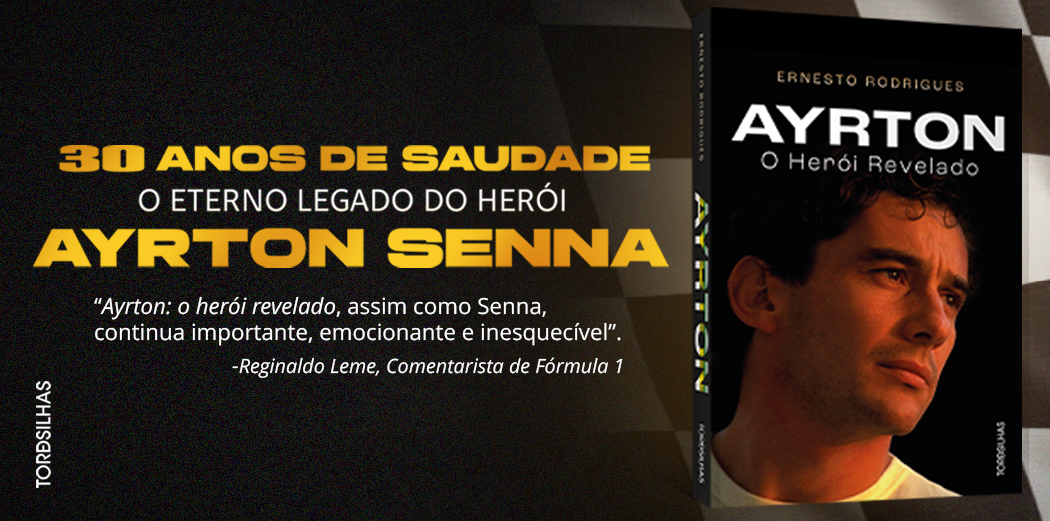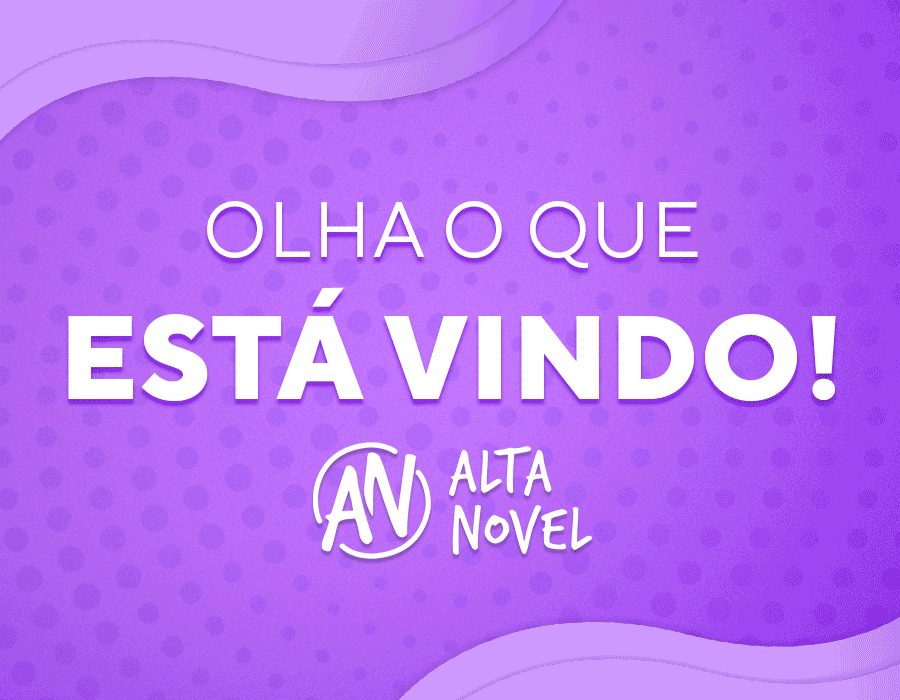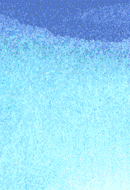Editamos livros porque os amamos. Amamos livros porque amamos o que cabe dentro deles − pensamento, belezas (muitas), inteligência, gozo... Só edita livros quem os lê. Só lê livros quem aposta num nível, ainda que basal, de humanidade, mesmo que proponha a revisão dos humanismos. É por isso que o momento que vivemos é especialmente temerário. Amamos um nódulo de humanidade que nos leva a ler, escrever e fazer livros, e vivemos num país que está a um passo de legitimar o ódio. Oficializá-lo. Estatizar o mais profundo e ignóbil ódio. Quem ama livros entende do que chamamos de mínimo de humanidade, e entendê-lo implica entender a diferença. Os que cultivam um ódio, não à injustiça, mas à própria diferença, não à violência, mas à tolerância, entendem que essa mesma violência pode ser remédio. Para que males? Não sabem. Dirão coisas informes − bandidagem, corrupção etc. A violência para eles, desde que vitime as miras (pessoas) certas não é um problema, é bem-vinda. Eles, atados pelo ódio que os domina, não percebem que talvez venham a estar entre os alvos.
Em seu brilhante O ódio à democracia (um livro, vejam), Jacques Rancière escreve que a democracia “é a ação que arranca continuamente dos governos oligárquicos o monopólio da vida pública e da riqueza a onipotência sobre a vida”. A escolha que este país está fazendo resulta justamente no recrudescimento do monopólio e da onipotência, ou seja, na recusa da liberdade. Penso nos livros e na defesa histórica da bibliodiversidade que faz a Liga Brasileira dos Editores (Libre). Livros são investimento em democracia. Odiar a democracia, renunciar a ela, é odiar os livros, instrumento insubornável do que fazemos nós, leitores, escritores, editores. Livros propõem mediações. Eles se põem entre nós e o mundo, sendo, em nós e no mundo, parte do cultivo daquilo que nos faz mais humanos: a linguagem. Muitos dos que odeiam, odeiam a mediação: gritam, repetem palavras de ordem, agridem. Não medeiam.
Cultura é mediação, modo de entender o mundo para que possamos transformá-lo − nem que seja em lugar de afeto. Não há afeto sem mediação. Consultei o plano de governo de Jair Bolsonaro. Nele, não aparece a palavra livro. Nenhuma, nem uma, vez. Nem a palavra cultura. Seu adjetivo, cultural (estou pensando na cultura como o conjunto de práticas que ajuda a humanidade, em resumo, a se entender simbolicamente), aparece três vezes, sempre de modo impreciso, nunca relativo a arte ou a conhecimento. Duas das três ocorrências são as seguintes: “Nos últimos 30 anos o marxismo cultural e suas derivações como o gramscismo, se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da Nação e da família brasileira”; “O Brasil passará por uma rápida transformação cultural, onde a impunidade, a corrupção, o crime, a ‘vantagem’, a esperteza, deixarão de ser aceitos como parte de nossa identidade nacional”. A vagueza, e até a escrita torpe, é estratégica. É parte da não mediação.
O plano de governo da coligação de Fernando Haddad (quero fazer um contraponto, não proselitismo), além de manifestar que investirá “na consolidação de uma Política Nacional para o Livro, Leitura e Literatura” (p. 34), apresenta muitas vezes a palavra cultura ou variantes. Dois exemplos, apenas: “O governo Haddad vai trabalhar pelo acesso pleno da população aos bens e serviços culturais como uma garantia de cidadania, em toda a riqueza de nossa diversidade e produção cultural regional e nacional” (p. 7). “Consideramos o acesso pleno aos bens e serviços culturais como uma garantia de cidadania. (...) construiremos novos mecanismos de circulação dos bens culturais, enfrentando o monopólio das empresas que atuam no setor pela lógica estrita do mercado” (p. 34).
Livros são cultura, como sabemos. Sem livros, dificilmente construiremos mediações, portanto afetos, logo, humanidade. O país que se anuncia terá como pilar econômico um cerrado raciocínio de mercado, alfa e ômega do pensamento neoliberal, cujo fim não é a igualdade, nem a distribuição de renda, mas o próprio mercado. A base desse neoliberalismo será uma mistura, cuja liga são o ódio e a ignorância, de valores provenientes do militarismo mais irreflexivo e de um cristianismo arcaico, sem qualquer teologia. Em nosso país, logo, o pensamento estará ferido de morte, e seus agressores terão a legitimidade de um poder adquirido por vias eleitorais. Democráticas, não; vemos nesta eleição que o debate no espaço público, condição sine qua non para a democracia, está superado. Essa saudável prática foi substituída por mensagens de WhatsApp e memes na internet. Não conheço ferramenta que enfrente melhor o apoucamento da cultura e a morte do pensamento que o livro, inclusive por seu formato: não é a minúscula e avara tela do celular, mas um universo que se abre em 14 x 21, 16 x 23... Mas o fomento do ódio e da nescidade não suporta o livro, pois abomina o diverso. Livro são expressões do diverso.
2019 será o ano em que começaremos a testemunhar uma perseguição inédita a esse nosso objeto de amor. O Fahrenheit terá várias faces. Uma será a falta de apoio governamental ao livro, pondo a Lei Castilho em concreta ameaça. Outra, a indiferença. Fato é que a concretização, no Brasil, de um país de não leitores será consequência de uma política de Estado. Nem a Bíblia será lida enquanto livro, será apenas um objeto inerte a fornecer frases de efeito (duvidoso). Há ainda a possibilidade de os odiadores, caso leiamos, escrevamos ou editemos coisas que eles odeiem (pela capa, claro, eles não passam dali), nos agredirem e tacarem fogo em livros. Literalmente. Isso já está acontecendo.
Certa metáfora ilustra bem o que estamos dizendo. No programa Roda Viva, no fim de julho, Jair Bolsonaro, ao ser questionado sobre seu livro de cabeceira, citou Carlos Brilhante Ustra. O torturador que Bolsonaro tanto estima escreveu um livro, sabemos. Mas Ustra não é escritor, certamente não escreveu sequer as páginas que assina. Ustra é um genocida. A metáfora, triste, é justamente esta: diante da solicitação para falar de um livro, Bolsonaro cita um assassino. Não precisamos ser muito argutos para perceber que aquela frase foi uma sutil e enviesada sentença de morte ao livro, a livros. Por extensão, a nós, que neles, deles, vivemos.